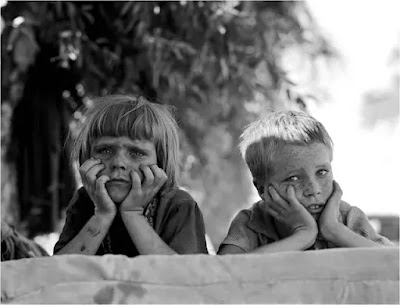Tal como noutras formas de fideísmo, Pascal parte da ideia de que não há provas adequadas de que Deus existe, nem de que não existe. Deste ponto de vista, há como que um empate das provas a favor e contra a existência de Deus. Contudo, este ponto de partida é uma consideração pessoal e subjectiva; não é o resultado de um exame cuidadoso e exaustivo das provas a favor e contra a existência de Deus. Concluir adequadamente que as provas para um lado e para o outro se anulam ou equilibram é muito mais difícil do que parece à primeira vista. Isto porque não basta apresentar algumas provas duvidosas; é preciso ser exaustivo e procurar as melhores provas a favor da existência de Deus. Depois, é preciso examiná-las para ver se são todas deficientes. Mas mesmo isto ainda não basta; ainda falta comparar o peso relativo das dificuldades encontradas nessas provas com a plausibilidade da hipótese da inexistência de Deus, e das eventuais provas a seu favor. Ver apenas que algumas provas que nos pareciam definitivas deixam muito a desejar está longe de ser uma boa prova de que não se pode saber que Deus existe nem que não existe.
Como é evidente, fica-se surpreendido, e com razão, que seja um crente a declarar que afinal não há provas adequadas da existência de Deus. Nesse caso, por que razão continua ele a acreditar que Deus existe? Não seria muitíssimo mais razoável suspender a crença e adoptar uma posição agnóstica?
Perante qualquer crença, seja ela religiosa ou não, há sempre três atitudes. Vejamos no caso da crença de que Deus existe:
- Acreditar que Deus existe.
- Acreditar que Deus não existe.
- Não acreditar que Deus existe, nem que não existe.
1 é a posição de uma pessoa crente e 2 a de uma ateia. Ambas têm uma crença relativa à existência de Deus, e ambas contrastam com a posição 3, que é a da pessoa agnóstica. Esta última nem acredita que Deus existe, nem acredita que não existe; limita-se a suspender a crença. Isto é algo que fazemos muitas vezes. Por exemplo, é de prever que as pessoas, na sua maioria, não acreditam que existem extraterrestres inteligentes que pesam duzentos quilos; mas também não acreditam que não existem. Simplesmente, não têm qualquer crença quanto a isso.
Este aspecto elementar da lógica da crença não é rejeitado por Pascal; porém, o seu raciocínio desenvolve-se pressupondo que, na prática, tanto faz acreditar que Deus não existe como não acreditar que existe, porque em ambos os casos não somos crentes. De modo que Pascal formula a questão em termos de duas alternativas apenas: acreditar ou não? E a resposta de Pascal é que é irracional não acreditar em Deus, se pensarmos cuidadosamente nas alternativas:
- Deus existe e acredito; ganho o infinito.
- Deus existe e não acredito; perco o infinito.
- Deus não existe e acredito; o que perco não é significativo.
- Deus não existe e não acredito; o que ganho não é significativo.
Chama-se aposta de Pascal à atitude de apostar na crença porque é a mais vantajosa das quatro alternativas. É a mais vantajosa porque promete um ganho infinito, nada de substancial se perdendo caso se perca a aposta. Em contraste, se não acreditarmos, arriscamo-nos a perder o infinito, e o que se ganha, se Deus realmente não existir, é negligenciável.
A aposta de Pascal compreende-se mais claramente com outro exemplo. Imagine-se que alguém nos propõe um negócio mafioso que custa apenas dois reais. Se existir vida em Marte, esses dois reais rendem-nos duzentos milhões de reais. Se não existir vida em Marte, só perdemos os dois reais. Contudo, se recusarmos delicadamente o negócio, o mafioso puxa da pistola e diz-nos que, nesse caso, se existir vida em Marte, teremos de pagar duzentos milhões de reais. Mas se tivermos a sorte de não existir vida em Marte, diz-nos ele com um sorriso benevolente, guardando a pistola, poupamos os dois reais e nada mais acontece. Eis as alternativas:
- Há vida em Marte e aposto; ganho duzentos milhões de reais.
- Há vida em Marte e não aposto; perco duzentos milhões de reais.
- Não há vida em Marte e aposto; perco dois reais.
- Não há vida em Marte e não aposto; poupo dois reais.
Caso isto nos fosse proposto, o mais vantajoso seria, evidentemente, abrir a carteira e apostar dois reais na existência de vida em Marte. No máximo, perdemos dois reais — mas talvez ganhemos duzentos milhões. E se não apostarmos, arriscamo-nos a ter de pagar duzentos milhões de reais. Claro que neste caso seria irracional não apostar na existência de vida em Marte.
E é isto que Pascal tinha em mente. Do seu ponto de vista, é irracional não ser crente porque no máximo perde-se tempo com rituais e tudo isso, mas talvez ganhemos o infinito. Em contraste, se não formos crentes, o que se ganha é pouco importante, mas arriscamo-nos a perder o infinito.
Terá Pascal razão?
Desidério Murcho in O Estado da Arte