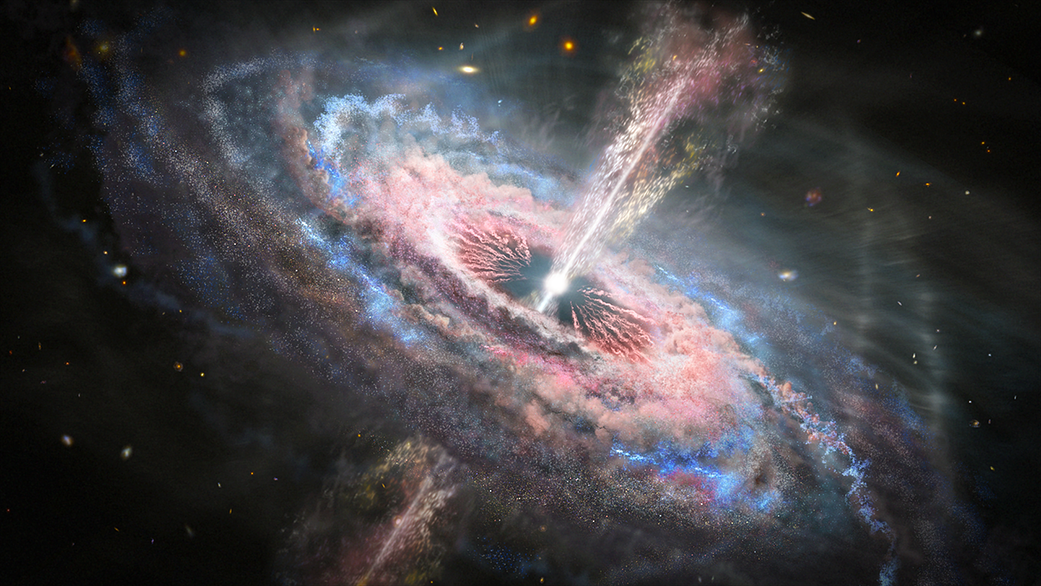Também podemos ver, novamente sem grande rigor, como a ideia de falsificação leva à solução de Popper para o segundo problema e encontrar uma distinção entre ciência e pseudociência. Caracterizar esta distinção - mostrar 'o critério de demarcação', como Popper o designa - ajudar-nos-á a compreender o que é a ciência. Conduzir-nos-á também a pôr sob dúvida práticas a que se dá por vezes demasiada atenção, em particular, aquelas que se confundem com a ciência. Popper trabalhou por uns tempos com o freudiano Alfred e é esclarecedor, neste contexto, dizer algumas palavras sobre o freudianismo.
Suponhamos que eu o incomodo a si com a minha teoria freudiana de que o desejo sexual inconsciente por figuras maternas está na base do comportamento masculino. Eu exijo-lhe provas e dirigimo-nos a um bar para observar o modo como os clientes interagem com o homem e com a mulher que estão ao balcão. Um cliente homem escolhe a mulher quando decide pedir uma bebida e eu exclamo 'Ah ah! O seu desejo inconsciente pela mãe levou-o a interagir primeiro com ela! Isto prova a minha teoria.' Mas se as coisas tivessem acontecido de maneira diferente e o cliente se tivesse dirigido ao homem atrás do balcão, eu poderia dizer também sem dificuldade 'Ah ah! Ele está a tentar ultrapassar o seu desejo pela mãe evitando a mulher do bar! Isto prova a minha teoria.'
O problema em Freud e até certo ponto, na ótica de Popper, em Marx, é que as perspetivas destes não são falsificáveis. Uma hipótese freudiana não tem consequências empíricas e é por isso que devemos hesitar em considerá-las científica. O que distingue a ciência da mera pseudociência como o freudianismo é precisamente a testabilidade das hipóteses científicas. As teorias científicas têm consequências que podemos inspecionar através da observação. (…)
Dificuldades da perspetiva de Popper
Há todo um conjunto de preocupações associadas à conceção da ciência de Popper, apesar de ele ter contornado o problema da indução e de ter conseguido distinguir a ciência dos pretensos candidatos a esse estatuto. Podemos perceber as dificuldades ao pensar como é que a perspetiva falsificacionista funciona supostamente na prática. Por exemplo, devemos pensar nos cientistas como alguém que tenta genuinamente falsificar, e não provar, as suas teorias? (…)
deve esperar-se que acreditemos que os cientistas devam ser ou sejam falsificacionistas? Dão eles saltos de alegria quando descobrem que a teoria sobre a qual trabalham, porventura à décadas, é falsa? Devia ser assim? Não é descabido pensar que os esforços de Popper para evitar o problema da indução o fizeram cair em algo que não se parece com a ciência tal como é praticada ou mesmo tal como deve ser praticada. Uma olhadela à história da ciência chega para sugerir que os próprios cientistas não pensam que o seu trabalho consiste em remover falsidades, mas em encontrar verdades. Seja como for, a perspetiva de Popper parece ignorar a dimensão social da ciência tal como esta é praticada, um facto explorado por filósofos posteriores como Thomas Khun e Paul Feyerabend.
James Garvey, The Twenty Greatest Philosophy Books (London, 2006). Trad. Carlos Marques.