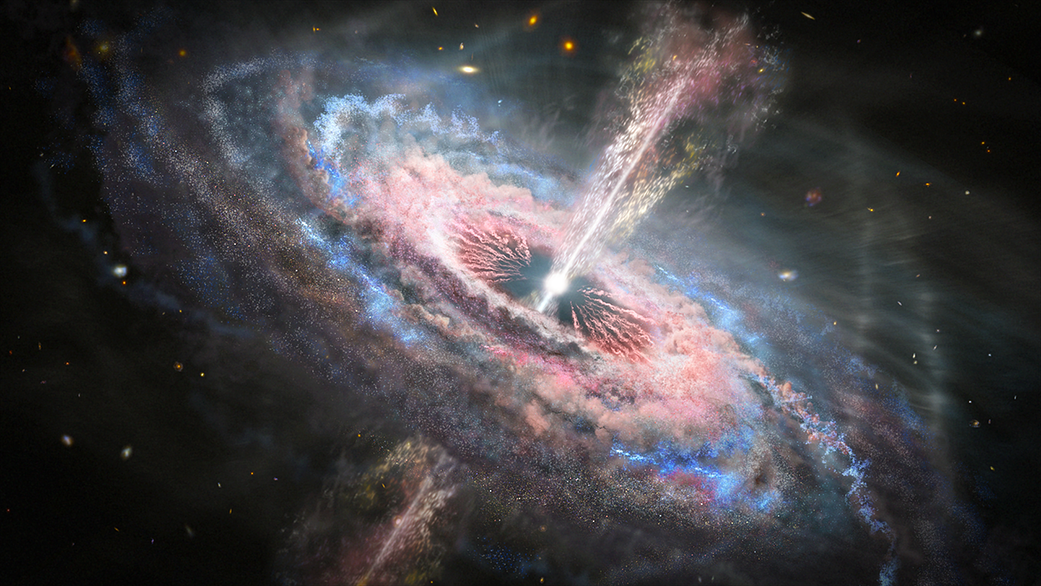Encontrar boas teorias
A teoria de Popper não diz que são igualmente boas todas as teorias que ainda não foram falsificadas. Algumas teorias são melhores do que outras. O que faz uma teoria não falsificada ser preferível a outra é o facto de poder ser mais facilmente falsificada. Mas o que faz uma teoria ser mais facilmente falsificada do que outra? Uma forma de uma teoria ser mais facilmente falsificada deve-se à sua maior abrangência. Consideremos estas duas teorias acerca da gravidade:
Todos os objectos caem em direcção ao centro da Terra.
Em Londres todos os objectos caem em direcção ao centro da Terra.
A primeira teoria é mais abrangente. Prevê tudo o que a segunda prevê e prevê ainda muito mais. Sendo que prevê mais, é mais fácil de falsificar do que a segunda teoria.
Uma teoria é também mais facilmente falsificada se fizer previsões mais precisas. Consideremos a afirmação:
Todas as pessoas felizes usam cores brilhantes.
Trata-se de uma asserção bastante vaga. O que é exactamente a felicidade e como podemos medi-la? Onde está precisamente a fronteira entre ser feliz e não o ser? O que se deve considerar brilhante? Estas e outras questões levantam-se assim que resolvemos testar a afirmação. E é claro, dada a sua vagueza, alguém que esteja interessado em defendê-la pode sempre fugir ao que parece uma falsificação, dizendo “Bem, não era propriamente isso que queria dizer com “brilhante"”, ou “Esta pessoa não é propriamente alguém que eu consideraria “feliz"”. A vagueza faz uma afirmação ser muito mais difícil de falsificar.
Uma teoria que faz previsões precisas e sem ambiguidades acerca de fenómenos quantificáveis e mensuráveis é muito mais fácil de falsificar. Por exemplo, a teoria de que todas as pedras pesam precisamente 500g pode ser facilmente falsificável com a ajuda de uma simples balança. Os instrumentos de medida, como os manómetros ou os termómetros, fornecem aos cientistas ferramentas eficazes para testar as suas teorias.
Stephen
Law in
https://criticanarede.com/fildaciencia.html